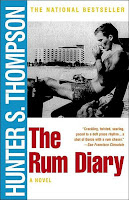Cerveja vem, cerveja vai, e ao tentar descompassar o ritmo da conversa que já beira ao incompreensível àquela altura da noite, meu amigo Thiago comenta, enquanto larga o isqueiro sobre a mesa: “Aqui do lado de casa tem ensaio de uma banda todo sábado, no Julinho”. A bocejante resposta dada por meu corpo ao tomar conhecimento de mais um grupo de rock que surge no mundo acaba camuflada pela perplexidade de ouvir que o colégio Júlio de Castilhos, famoso por seu passado político e importância histórico-cultural, hoje cede espaço à música eletrificada. “Não, mas é banda de colégio. Banda marcial”, retruca ele, voltando-se ao copo que esquenta. “Bom, acho que já tenho uma pauta pra aula de quarta”, penso eu.
Enquanto jovens de diferentes classes sociais se aprofundam a cada dia mais nas vertentes musicais popularizadas a partir da segunda metade do século XX, como o rock n' roll e seus agregados, senhores de cabelos rasos e experiência avançada vão abandonando a cena de mãos dadas a outros ritmos apagados, como a música clássica, o jazz e o blues. Creio que no meio disso estão as bandas marciais, transitando entre o popular e o erudito, a música considerada comercial e a refinada. Com seus instrumentos de percussão e sopro, de leitura mais sofisticada. Com maestro e formação semelhante às orquestras. Os uniformes dos integrantes e seus desfiles ritmados fazem parte do ritual, ou da alma das bandas marciais, muito comuns até a década de 70, assim como o whisky e o cigarro compõem o cenário de qualquer clube de jazz, muito comuns até se descobrir que é possível ser uma estrela da música conhecendo apenas 3 acordes. E o Julinho, onde entra nisso? É o que eu pretendia descobrir e, quem sabe, fazer parte.
Fazer parte da banda, é lógico. Se você descobrisse que um monte de gente ensaia e se diverte há poucos metros de distância da sua casa, não ia querer se juntar a eles? Saber tocar é o de menos, afinal grandes músicos começaram assim, influenciados pelas pessoas mais próximas. Além disso, minha intenção nunca foi fazer da música um ganha-pão, ainda mais no Brasil, e por esse motivo não me constrange dizer que todas as bandas de que eu participei acabaram no anonimato (nem tanto assim, mas soará mais triste a você, leitor). Agora eu tinha um novo instrumento a que me dedicar, não mais a guitarra e o contrabaixo elétricos, tão surrados mundo afora: O trompete. Por muitos anos, ele conduziu em mim uma força motriz capaz de invejar as mais belas garotas na luta por atenção. Até tentei tocá-lo, uma vez, mas não consegui produzir qualquer som agradável. Grande coisa. É impossível, para qualquer admirador convincente de música, não criar raízes sólidas e profundas de afeto com o famoso trompetista norte-americano Chet Baker ao desabotoar os primeiros botões de sua obra. Antes disso, porém, talvez se materialize a imagem eternizada do músico em decadência e que abusava de entorpecentes, mas isso eu encontraria em qualquer esquina, não era minha principal intenção.

Convencionar imagens e realidades tem muito a ver também com a função social da imprensa e dos veículos de comunicação em geral, e a imagem que se criou a respeito do Julinho (muito graças a ocorridos reais, diga-se) é a de que a bagunça e a desorganização imperam lá dentro e nas redondezas, como de fato acontece com todo o ensino público gaúcho. Num sábado à tarde, porém, quem impera na entrada do prédio localizado na Avenida João Pessoa são o silêncio e a tranqüilidade. À minha frente surge a presença de um senhor de cabelos brancos, por quem eu seria muito bem conduzido durante aquela visita. Conversando com o ex-aluno e ex-integrante da banda marcial do colégio, de 1959 a 1967, Renan Lisboa, épocas completamente distantes e divergentes pareciam estar se unindo. De 1972 até setembro do ano passado, quando ele e outros ex-integrantes entraram no museu do Julinho para recuperar instrumentos abandonados e retomar as atividades musicais ali, a tradicional Banda Marcial Juliana era apenas parte de uma história. Graças à vontade desses senhores saudosos, ela voltou.
O dinheiro é deles, a idéia e muito da dedicação também, mas as coisas funcionam de modo diferente agora dentro da banda. Com novos integrantes, novos instrumentos, com novas características, enfim, e isso acaba gerando um conflito de gerações. Os mais velhos querem o som da banda antiga, talvez para reviver aquela sensação do passado, mas isso é impossível. Até porque os mais novos querem tocar do jeito deles, afinal é a época deles. Eu não fazia idéia, até então, do que esperar de uma banda marcial, ainda mais uma que está recomeçando após tantos anos, num colégio público com fama de perigoso. A situação toda me lembrava aqueles filmes sobre escolas americanas do Brooklyn, em que o diretor é perseguido pelos alunos e no final tudo acaba numa boa. Acompanhado de Renan, um possível diretor perseguido, parte do passado e do presente do Julinho, de longe eu ouço a batida da bateria, e vou me animando, chegando mais perto, com a máquina fotográfica em punho, chegando perto, imaginando no barulho que se aproxima a claridade do trompete que eu almejo tocar, e torcendo para que, como nos filmes, as coisas terminem numa boa.
O que mais impressiona, nesse novo contexto em que uma parte dos alunos do Julinho se encaixam, são as dificuldades encontradas ali dentro para que a banda possa seguir em marcha. Cada integrante recebe vale-transporte para poder comparecer aos ensaios, além dos instrumentos e aulas. A maioria deles vêm de longe, alguns nem moram em Porto Alegre, e o colégio não tem renda suficiente pra bancar essas despesas. Quem arca com tudo são os ex-integrantes, que formam o conselho diretor e contam com algumas ajudas de fora. Situação ímpar se comparada com outras bandas marciais que atuam no nosso Estado, como as bandas do Colégio La Salle São João e a do Colégio Militar, ambas da capital, que contam com uma estrutura bem mais favorável. Só a AGB (Associação Gaúcha de Bandas) conta com 73 cadastradas, participando de festivais, competições, workshops. Parece muito, porém é um número bem menor do que já foi há anos atrás. Estou às costas de Renan, timidamente localizando-me dentro das instalações do Julinho. Atravessamos o pátio, chegamos na entrada do teatro, que vai surgindo vazio, vazio, até que explode. A banda está ali, e pelas próximas 2 horas eu nada mais consigo fazer além de fotografar e entrar naquele mundo.

O lugar é enorme, o palco está escuro, e ali embaixo, entre cadeiras vazias e alguns olhares atentos (ou enciumados) de conselheiros, têm aproximadamente uns 70 caras tocando. Muitos usam boné, roupas largas e tênis importados, lembrando mais a composição de um grupo de hip-hop. Outros são mais arrumados, porém a maioria deles cruza uma faixa-etária próxima da minha: 20 e poucos anos. O som da banda toma conta do ambiente, como um estádio de futebol vazio presenciando uma final de campeonato. “Como é que eu não descobri isso antes, como é que as pessoas não sabem que isso acontece todo sábado, aqui, no Julinho?’. Provavelmente em outra situação, num sábado comum, eu estaria na rua tentando achar algo divertido, ou em casa, talvez ouvindo os Beach Boys, os Stone Roses. Essa é a minha realidade, como a da maioria que eu conheço: Música pop, e não os ensaios de uma banda marcial, “bandinha’, como as pessoas chamam. Azar o nosso. Isso que se passa no Julinho é muito mais legal do que qualquer banda nova que apareça. Antigamente considerado músico do demônio, ingrediente principal de uma tríade que une putaria e entorpecentes, numa imagem dionísica ao extremo, entre outras bobagens, o roqueiro moderno toma toddynho antes de ir pra academia e ganha uma guitarra elétrica a cada dois aniversários. Ser pai de um desses indivíduos é o sonho de qualquer ser humano com menos de 50 anos. Não tem nada de inovador e transgressor nisso. Com essa banda é diferente. A coisa se inverteu, a história é outra.
Assim que o ensaio termina, ouço algumas reclamações dos integrantes ao maestro, que assume na minha mente a figura do diretor de escola do Brooklyn, porém não perseguido, mas sim companheiro dos alunos. Eles estão irritados com alguns conselheiros, que insistem na idéia de que a banda soe como era antes. “Eles querem que a gente toque como nos anos 60”, fala um deles em tom de deboche, enquanto a sala vem abaixo com as risadas. O maestro também ri, mas coloca claramente o problema: “São vocês que tocam, mas sem eles não tem banda, nós temos que conciliar os dois lados”. E a história não me soa tão passível assim de um final feliz. O medo de que os dois lados não consigam se entender me pega em cheio. Para os outros, porém, tudo isso parece ser apenas passageiro, diante de sua empolgação e da realidade que transformam com a música. Saindo dali, integrantes do presente e do passado se encontram num boteco, com divergências ou não, e fazem música na rua. Alguns trompetes, trombones e percussão sobre a mesa junto da cerveja. Essa é a imagem que fica do Julinho nesse sábado. É punk, é transgressor, vai além da simplicidade a que se está acostumado nos pequenos grandes sucessos atuais. Se fosse subterrâneo talvez não fosse tão underground quanto de fato é, escondido na cara dura do que não é tão noticiado. Azar o nosso.